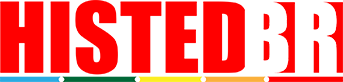"Ignorar hoje, em plena florescência dos chamados estudos culturais, a importância de pensar a cultura equivale à postura de um biólogo que dizia: o ar não importa porque sem o pulmão ninguém o respira."
Houve uma época em que tudo era explicado a partir da teoria psicanalítica de Freud. Se o sujeito chupava o dedo, se coçava o nariz ou se costumava chutar latas na rua, tudo isso tinha explicação em Freud. Claro que não o grande Freud. Mas um Freud mal digerido, feito para consumo em massa, a partir de meia dúzia de clichês. A consagração definitiva deste segundo Freud – talvez tão importante quanto o outro, o cientista, porque enfim este penetrou fundo na cultura em circulação, enriquecendo-a com uma porção de signos rapidamente assimilados – é o personagem criado por Veríssimo, o Analista de Bagé. Tudo isso Freud explica, até mesmo o joelhaço como estratégia terapêutica.
De uns tempos para cá quem está explicando muita coisa é um italiano, o filósofo Antonio Gramsci, um dos maiores pensadores do século passado, quiçá de todos os séculos. Para muitos, o maior. A aura de Gramsci ganha contornos quase religiosos devido ao padecimento pessoal na prisão de Mussolini. Extremamente abrangente, o pensamento de Gramsci alcança quase todos os domínios da vida social. Da sua longa meditação na cela e de sua paciente e penosa escrita sem ao menos um livro para consultar e citar, recorrendo apenas a sua prodigiosa memória, resultaram os “Cadernos do Cárcere”. Gramsci pensou em quase tudo e escreveu sobre quase tudo. Daí que há sempre uma palavra de Gramsci sobre o Rotary Club, a Maçonaria, a Imprensa, os Partidos Políticos, a Igreja Católica, a Educação, a Escola, as Editoras, os Intelectuais...
Não sei se o leitor percebe, mas todas estas instituições, que fiz questão de grafar com iniciais maiúsculas – justamente para acentuar seu caráter institucional – fazem parte do assim chamado mundo da cultura. Ou seja: daquilo que os epígonos de Marx, mais realistas que o rei, mais marxistas que Marx e Engels, denominavam, com uma ponta de desprezo, como a “superestrutura”. O mundo cultural, para esse marxismo grosseiro, não tinha qualquer importância. Mero reflexo da “infraestrutura”, ou seja, da base econômica da vida social, a cultura era uma realidade secundária, com a qual não se deveria perder tempo. O importante, para os epígonos, era entender o que se passava no mundo da produção econômica – e só nele! Este mundo duro, construído a golpes de martelo e a cortes de foice, este sim, dando origem às relações sociais, era determinante do resto, inclusive da cultura, que se reduzia à “ideologia”.
Como também a ideologia era entendida depreciativamente, ora como uma ilusão, ora como mero artifício da classe dominante para perpetuar sua dominação, seguia-se a irrelevância de seu estudo. Uma espécie de assunto para desocupados.
Gramsci, ao contrário, dedicou o melhor de sua reflexão para o mundo cultural, para o território da construção simbólica. Considerado o “filósofo da superestrutura”, Gramsci libertou a cultura das amarras determinísticas que a prendiam rigidamente à fábrica, à fazenda, ao escritório, à repartição pública, à loja; não para deixá-la solta como um fantasma no ar, mas para estabelecer, com riqueza dialética, as múltiplas relações que existiam, como numa pista de duas mãos, entre ela e a produção. Determinada, em última instância, pela base econômica, a cultura retornava sobre esta, em diversas outras instâncias (por que só a “última” teria importância?), criando uma trama rica de influências que seria tolice ignorar.
Da mesma forma, Gramsci deu um grande impulso aos estudos sobre ideologia ao libertá-la de sua função exclusivamente conservadora. Parece tão claro que chega a ser enfadonho ter que repetir: a cultura compreende a totalidade do território simbólico enquanto que a ideologia é a parte desse mundo apropriada por grupos sociais, como classes e frações de classes, na defesa e promoção de seus interesses. Ponto. A ideologia é o discurso do interesse, seja ele para manter determinada ordem, seja para a transformar.
Ignorar hoje, em plena florescência dos chamados estudos culturais, a importância de pensar a cultura equivale à postura de um biólogo que dizia: o ar não importa porque sem o pulmão ninguém o respira.
Se, do lado progressista, houve e ainda há certa resistência a adentrar seriamente o território cultural, do outro lado, o do conservadorismo mais retrógrado, arma-se uma guerra contra o que seria a “nova estratégia” das esquerdas: deixar de lado a ocupação do poder pela força e conquistá-lo pelas mentes. Esta seria a essência do que Michael Minnicino e William S. Lind denominaram “marxismo cultural”, enorme estultice que foi avidamente comprada pela obscurantista direita que se estriba na geleia pseudofilosófica de Olavo de Carvalho. Contra a instilação do “veneno vermelho nos corações e mentes”, essa direita pós-fascista ora no poder tupiniquim receita o antídoto da “guerra cultural”, pretendendo extirpar o “perigo vermelho” alojado nas instituições da cultura, da educação, do entretenimento e da mídia. De onde essa gente foi tirar tanta besteira é difícil saber. Mas elas atribuem o foco do “marxismo cultural” – sabem a quem? – a Gramsci e, ó salada filosófica! - a Habermas! Esse pasticho nem Gramsci explica.